A comunicóloga Thamirys Nunes já havia se conscientizado de que precisava apoiar sua filha trans. Seu companheiro e pai da criança, também. Mas se dentro de casa estava garantido que o crescimento de sua filha contaria com amor e suporte de que toda criança necessita, a mãe logo compreendeu que, do lado de fora, havia muitas ameaças para que Agatha, hoje com 8 anos, pudesse viver sua identidade plenamente.
“No Paraná, naquela época [2019], não podia ter nome social de crianças trans no RG, só no de adultos. E eu fui fazer uma viagem de carro para São Paulo e tive que voltar de ônibus. No embarque, o motorista falou que aquele documento que eu tinha não representava a criança que estava comigo. Eu falei que ela é uma menina trans, mas ele insistiu que o documento era de um menino, e que eu estava com uma menina. Enfim, foi uma hora e meia de gritaria na rodoviária, tendo vários problemas e dificuldades, até sendo acusada de ter sequestrado ela”, lembra Thamirys. “Eu comecei a entender que algumas coisas são muito específicas da pauta da criança e do adolescente trans, e que ainda não tínhamos nenhum olhar sobre isso.”
Essa consciência foi se somando a uma percepção de que mesmo a rede de proteção à criança e ao adolescente e as entidades de defesa dos direitos LGBTQIAP+ não estavam preparadas para orientar mães de crianças trans a lidar com dificuldades do dia a dia, que podem ir da matrícula à escola a um embarque para viajar, como no exemplo relatado. Thamirys conta que foi denunciada para o conselho tutelar por uma unidade básica de saúde, que a acusou de induzir a identidade de gênero de sua filha. Depois disso, cinco escolas negaram a matrícula dela, porque disseram que não aceitavam crianças trans. Ao tentar denunciar ofensas à polícia, a ativista lembra ter ouvido do delegado que se tratava de um insulto simples, e que não era transfobia porque ela não era uma pessoa trans. Ficou cada vez mais explícito que aceitar a ausência de direitos não era uma opção.
“A gente entendeu que isso era tão essencial para a qualidade de vida da minha filha como ter comida em casa”, resume ela, que lançou o livro Minha Criança Trans?, em 2020. “Muita gente chegava para mim e perguntava: ‘você já tentou isso? Você já tentou aquilo?’ E eu queria que as pessoas soubessem que eu já tinha tentado tudo, e que, de fato, eu tinha uma criança trans. Não era modinha, não era um desenho, nem era nenhuma influência externa.”
Minha Criança Trans
A publicação do livro fez com que outras mães e pais se aproximassem, criando uma comunidade que começou ao redor das discussões escritas por ela, mas ganhou forma como espaço de mobilização política até que, no ano passado, Thamirys e um grupo de 580 famílias fundaram a organização não governamental Minha Criança Trans.
“Eu não fiz porque eu sou legal. Eu fiz porque ninguém tinha feito. Eu fiz por necessidade. Eu fiz porque eu tenho medo que a minha filha morra. Eu fiz porque eu não quero mais ser acusada de sequestro. Eu fiz porque nenhuma mãe tem que ser denunciada ao conselho tutelar por isso. Então, eu não fiz porque eu sou uma mãe legal. Eu fiz porque eu sou mãe desesperada, e é desse lugar que o meu ativismo funciona, do desespero”, desabafa. “As pessoas muitas vezes não entendem e falam assim: ‘ah, mas a sua filha tem sorte, ela tem pais que a acolheram como vocês, que têm uma boa condição de vida. Para quê fazer essa luta toda?’ E é porque a minha filha não precisa de sorte, a minha filha precisa de direitos, porque a sorte acaba.”
Escuta e pesquisa
Para se preparar para a militância, Thamirys, uma mulher branca, heterossexual, cisgênero e de classe média, conta que precisou ouvir muito, conhecer outras pessoas trans e estudar o tema com profundidade. E a posição de privilégio permitiu que ela se dedicasse integralmente a isso. “Minha família, até a chegada da minha filha, era uma família extremamente cis-hétero. Eu não tinha envolvimento com amigos LGBTs, e a primeira pessoa trans que eu conheci foi a minha filha. Então, eu tive também esse processo de descoberta”, conta ela, que se pautou principalmente pela escuta para formar sua convicção de que tinha uma filha trans.
“Eu procurei um especialista em crianças trans e perguntei se a minha filha era. Ele respondeu: ‘não sou eu que vou falar isso, quem vai falar isso é ela. Eu só vou te ensinar a escutar’. Eu sei que a minha filha é uma criança trans porque eu escuto a minha filha, eu observo a minha filha e estou aberta ao que ela me traz. Quando uma criança chega para você, com 3 anos e 11 meses, e fala ‘mamãe, eu posso morrer hoje para nascer uma menina amanhã?’ Como não escutar isso, como você não presta atenção a uma criança que diz ‘mamãe, sabe o que é triste? É triste que Deus não me fez menina. A vida seria muito mais legal se eu fosse uma menina’. Então, se você escutar isso, você tem que prestar atenção e pensar no porquê desse lamentar, no porquê desse pesar. Aonde isso quer chegar. Minha convicção está no bem-estar da minha filha. Eu tinha um menino triste, amuado, calado. E eu tenho uma menina viva, feliz, confiante. É dela que vem, e enquanto ela estiver bem, enquanto isso fizer sentido para ela, estarei com ela.”
Famílias de todo o país
Thamirys preside a ONG e tem contato com famílias do Brasil inteiro, com crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, incluindo pessoas de diferentes raças, religiões e pessoas com deficiência. Ela lamenta, no entanto, ainda não conseguir chegar a tantas famílias em situação de mais vulnerabilidade econômica e ter reunido mais famílias de classe média e média alta em sua caminhada.
“Temos famílias com vulnerabilidade econômica, mas temos uns 60% que são de classe média e classe média alta. Queremos virar esse jogo e estamos pensando em projetos e articulações”, conta. “As mães chegam até nós com muitas dúvidas e inseguranças, em um processo ainda de muita dor. A grande maioria tem medo de deixar a transição acontecer e o filho sofrer violência. E é preciso perguntar: ‘você não acha que ele já não está vulnerável? Ele está vulnerável e dentro de um armário em que não cabe. É uma dupla violência’. Muitos pais negam a transição por medo, pensando que vão manter o filho seguro. Eu não condeno e compreendo, mas a gente tem que fortalecer esses pais para que eles entendam que a violência tem que ficar da porta para fora de casa, e negar a identidade de um filho também é uma violência.”
Entre as mães que procuram a ONG, raramente há casos que chegaram ao extremo de terem expulsado seus filhos trans de casa, história de vida relatada com frequência na comunidade trans. Por outro lado, é frequente que jovens trans peçam ajuda sobre como contar para as mães que são transexuais. Thamirys afirma que costuma aconselhar a apresentar a transexualidade aos pais por meio filmes, séries e livros, antes de sair do armário diretamente. “Eu falo para ser sincero, dizer o que sente. E deixo meu telefone e digo que é para a mãe me ligar, porque eu estou com ela.”
Falta de normas específicas
Além de dar acolhimento a essas famílias, a ONG orienta em questões burocráticas e reivindica políticas públicas para as crianças trans, que Thamirys afirma serem inexistentes. Apesar de o Brasil ter um Estatuto da Criança e do Adolescente reconhecido internacionalmente, uma rede de proteção robusta de conselhos tutelares e um sistema de saúde universal, políticas específicas para crianças trans ainda se fazem necessárias, defende ela, que vê a comunidade refém do bom senso de agentes públicos.
“Infelizmente, a gente enxerga a pauta da criança e adolescente trans como uma pauta de costumes, e, em pauta de costumes, a atuação é via preconceito, via estigmas religiosos, via tabus, via achismos. A gente precisa tirar a pauta da criança e do adolescente trans dos costumes e migrar para a dignidade humana, e, aí sim, esses direitos todos estabelecidos e já reconhecidos poderão ser aplicados”, argumenta ela “Quantos pediatras falaram absurdos para mães em consultórios médicos, quantas escolas. A gente teve um caso em que uma juíza, em uma audiência de retificação, falou para uma menina de 16 anos: ‘eu vou até alterar seu nome, mas você nunca vai ser mulher de verdade’. Então, quando o Estado falha no seu bom senso, nós precisamos de normativas claras, para não ter dúvidas. E o Estado falha em reconhecer a transgeneridade em sua integralidade, e a infantojuvenil mais ainda. Então, em muitas situações, a gente tem que contar com o bom senso. E, só com o bom senso, está difícil.”
Thamirys mantém um perfil no Instagram em que publica conteúdos sobre o trabalho da ONG Minha Criança Trans.
Mães pela Diversidade
A trajetória de Thamirys e a da ONG Minha Criança Trans é parecida com a das Mães pela Diversidade, grupo formado principalmente por mulheres que são mães de pessoas da sigla LGBTQIA+ e que reivindicam os direitos de seus filhos sem tirar seus protagonismos. É o caso da professora de educação infantil Maria Cecília Castro, mãe do Caio, de 13 anos, que sempre se incomodou com roupas femininas e com o nome com que foi batizado. Pesquisadora do tema em sua dissertação de mestrado, ela conta que estudar não facilitou tanto as coisas para a maternidade.
“Ele sempre se desenhou e fez seus autorretratos como um menino, e eu conversava pra entender e ele dizia sempre, desde muito pequeno, que gostaria de ter sido menino, que gosta das coisas de meninos, que ele era forte. E eu fazia um movimento de mostrar grandes mulheres, mulheres fortes, como a própria Rita Lee, a Frida, mulheres de luta, vanguarda, liberdade, e ele dizia que não era uma mulher guerreira e forte, que era um menino”, lembra a professora, que mora em Niterói, no Rio de Janeiro. “Quando ele entra na escola, ele não queria usar o nome dele de registro. E ele teve uma estratégia muito inteligente de pedir para os amigos chamarem pelo sobrenome. E chamavam ele de Pereira. Me deu um susto como ele se organizou para se sentir um menino trans. E, entre os meninos, não tinha preconceito. Os colegas sempre o acolheram de uma forma muito afetuosa.”
Durante a pandemia, ela conta que Caio se sentiu muito perturbado pelo isolamento, com momentos de agressividade. Foi então que o filho mostrou a ela uma carta que tinha escrito para si mesmo no futuro, em um exercício de cápsula do tempo proposto pela escola.
“Ele abre essa carta, e, nela, ele já se chama de Caio. Isso me chocou, porque é uma carta linda e emocionante. Eu lembrei muito da história do João Nery, conhecido como o primeiro homem trans a fazer uma cirurgia. E, a história dele, ele conta em um livro chamado Uma Viagem Solitária, e eu lembrei de todo o sofrimento do João. E, aí, eu falei pra ele: ‘Filho eu queria que você soubesse que a sua viagem não vai ser solitária. Você não vai estar sozinho’”, lembra ela, emocionada.
Luta coletiva
A chegada ao Mães pela Diversidade, em 2020, se deu na busca por entender melhor como colocar na prática da maternidade os conhecimentos que ela já tinha por meio da jornada acadêmica. E também para esclarecer dúvidas sobre a própria transição de gênero e suas questões de saúde e documentação. Na ONG, ela se somou a um coletivo de cerca de 2 mil mães – e alguns pais – que se dividem em grupos de trabalhos e acolhimento ligados às identidades de gênero e orientações sexuais de seus filhos e também às suas especializações profissionais, quando podem ajudar uns aos outros.
“Aí, a minha vida muda completamente. E eu aprendo muito com essas mulheres”, conta ela, que a partir do grupo encontra profissionais de saúde especializados e sensíveis à transgeneridade e descobre o que precisa fazer para resolver questões como a mudança do nome do filho no diário escolar. “O importante disso tudo é como vamos acolher nossos filhos, filhas e filhes. E que as mães comecem a pensar que amor não tem negociação.”
A atuação coletiva em manifestações, audiências públicas e movimentos que defendem os direitos de seus filhos ajuda também as mães a se fortalecerem contra um discurso de culpabilização, que ela descreve como frequente. “A gente escuta muito ‘foi você que criou errado. A sua criação deu errado. É uma família desestruturada. Existe algum problema que tem que ser investigado’. Não se entende que isso é da pessoa, e se diz que isso é um problema que tem que ser corrigido”, critica Maria Cecília. “A gente faz uma luta para que outras famílias que têm dificuldade de fazer esse acolhimento saibam que está tudo bem, que não é um problema, que não é um desajuste, e que o amor é o pilar de todas as relações. É uma organização que não tem cunho partidário, religioso nem a pretensão de falar pelos filhos. O acolhimento dessas famílias é o que nos move.”
Maria Cecília reconhece que todo o seu esforço construiu um ambiente de proteção e acolhimento para o filho dentro de casa, mas que a militância mostra todos os dias que o mundo não é um lugar seguro para pessoas trans. “O medo é latente a qualquer mãe. E, quando você tem um filho trans, esse medo é muito mais potencializado. Todos os dias eu temo pela integridade física do meu filho. Mas eu não posso segurá-lo numa gaiola. Então, o meu papel é o de fortalecimento, é um trabalho para que entenda os seus direitos, crie uma rede de apoio que vai estar com ele, que ele saiba o que tem que fazer se sofrer preconceito, e mostrar que ele não está sozinho. Ele tem a mim, à família dele, e a organizações como o Mães pela Diversidade. Meu trabalho é falar para o Caio que ele é um menino trans, é um menino lindo, é um menino que não tem problema nenhum e que ele precisa estar atento e forte.”
Solidão materna
A mobilização das Mães pela Diversidade na Parada LGBTQIA+ de São Paulo foi o que permitiu que a advogada Regiani Abreu as encontrasse. Mãe do menino trans Luca, que hoje tem 14 anos, ela descreve que, na época da transição, lidava com uma intensa solidão ao não saber como conduzir uma situação da qual ela achava saber tudo, já que estava na terceira experiência como mãe.
“Minha motivação ao me aproximar não foi política. Foi uma busca de outras mães. Porque esse lugar da mãe de trans é muito solitário. Embora eu tenha tido em toda a trajetória a parceria do meu companheiro, pai do meu filho, há uma solidão materna. Porque você nunca sabe se o que você está fazendo é correto. Já há muita culpa no exercício da maternidade. Então, eu precisava encontrar outras mães”, conta ela, que passou a participar do grupo em São Paulo, onde mora. “No meu vocabulário de advogada branca e de classe média, nem a palavra trans existia. Embora eu fosse uma pessoa que tivesse simpatia pelas causas LGBTQIA+, eu não tinha conhecimento. Eu conhecia apenas as travestis que estavam trabalhando na rua. Eu não tinha contato nem com a linguagem. Era uma distância imensa.”
Participando das discussões, ela descobriu que sua formação como advogada poderia ajudar muitas outras mães. Regiani ajudou o grupo a criar, por exemplo, um modelo de notificação de nome social para ser entregue em escolas, para que outras mães soubessem como exigir respeito a identidade de seus filhos.
“Nossas famílias são vistas como possíveis de proporcionar entretenimento. Falar de uma criança trans para alguns setores da sociedade causa likes, causa engajamento nas redes sociais, e as nossas famílias infelizmente são muito usadas por esses grupos. Os ataques passaram a ser muito organizados e foi necessária uma atividade política e de engajamento mais organizada. Hoje, o Mães pela Diversidade atua, por exemplo, na elaboração de políticas de saúde. Ele atua como amicus curiae em ações em que somos atacados por esses setores”, explica. “E nós, do Mães pela Diversidade, não somos as pessoas, somos as famílias. Então, temos sempre que nos colocar atrás deles. Nunca assumindo um protagonismo que é deles. Eles é que vão direcionar, e nós vamos atuar.”
Regiani conta que a defesa dos direitos trans acaba entrando em casa com a rede de contatos e as reuniões do grupo, e passa para seu filho também por meio da educação parental. “Ele é uma pessoa de 14 anos muito apropriada de si, com muita certeza da importância que ele tem como ser humano, pessoa e titular de direito. Isso se reflete na atuação dele na vida, por exemplo, na escola”, conta ela, que deixa claro que isso não significa puxar seu filho para sua militância, e, sim apoiá-lo e orientá-lo sempre que ele solicitar. “Agora, ele precisa crescer. Mas toda vez que ele me chamar para estar do lado dele, na militância dele, eu vou. Não posso trazer ele para a minha. Mas ele, por exemplo, é representante de classe. Então, eu vejo que está frutificando.”
Na mesma situação em que ela esteve um dia, outras mães solitárias, assustadas ou inseguras chegam aos grupos de apoio de que agora Regiani participa. Esses grupos são localizados em cada estado, e divididos por letra da sigla LGBTQIA+. Essas mães são acolhidas, passam por uma checagem de que de fato são mães de filhos LGBTQIA+, e, só então, elas são incluídas nos grupos. A partir do acolhimento e do fortalecimento dessas mães, é criado um senso de coletividade, e essas mulheres costumam se tornar ativistas que se dispõem a participar de atos e ações a favor de outras famílias e da causa.
“Essas mães chegam muito doloridas. Com problemas nas suas relações afetivas, muitas vezes, porque há um embate com um companheiro que não aceita. E ela vê a dor do filho e percebe que é uma situação insustentável. Quando ela chega no Mães, ela já viu que era uma situação irreversível e que a criança, jovem ou adulto está sofrendo demais”, conta ela, que lamenta que muitas mães preferem rejeitar seus filhos do que seguir o caminho do entendimento e do amor.
“Eu vejo com imensa tristeza e dor, porque esses pais e essas mães estão esquecendo que uma pessoa não é só LGBT, que um filho é tão precioso, tão raro e é tanto. Dentro de um filho tem tanto, que ser LGBT é só uma coisinha. Eu sinto mais por esses pais do que por esses filhos, porque eles estão perdendo pessoas tão raras, tão preciosas, tão grandes, tão intensas, com tanta potência. Pessoas que, apesar dos abandonos, estão trabalhando, criando, escrevendo, fazendo arte, dançando. Essas pessoas são tão grandes e têm essa motricidade do sentimento, de ter visitado lugares em que eu nunca vou estar, que elas vão encontrar outras famílias. Elas vão construir laços tão bons, que vão substituir essa família. E essa família é que perdeu. Esse pai e essa mãe que perderam. Quando eu falo com esses pais, eu sempre digo isso. O meu filho joga vôlei, anda de skate, gosta de jogar videogame, gosta de conversar com os amigos, gosta de ir à praia. Ele é tantas coisas e tanto mais do que só isso que vale estar junto, vale estar dentro. Eu quero estar com ele. Eu quero ver essa pessoa acontecer. É uma honra ter o meu filho, os meus três filhos.”
Fonte: Agência Brasil



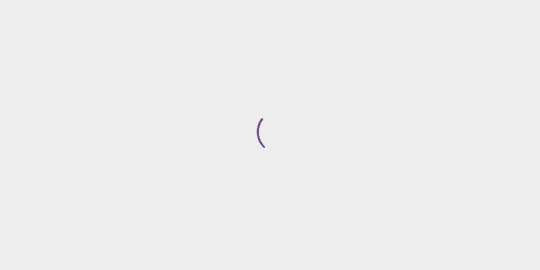
Relacionadas
Mostbet Apostas Desportivas E Casino Online Site Formal No Brasil Obter Bônus 1600 R$ Entar
Jovem com transtornos mentais é agredido em Camaçari
Otto Filho e Diego Coronel cobram debate em PLs fiscais